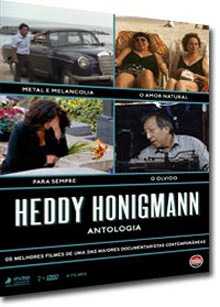Texto de Ricardo Parodi sobre a actriz Magdalena Montezuma, alma e corpo do filme de Werner Schroeter
O Rei das Rosas, hoje apresentado no ciclo
O Cinema Vai à Ópera, pelas 21h 30, no Cine-Teatro de Alcobaça:
"Magdalena Montezuma foi a actriz fetiche de boa parte dos filmes de Schroeter. Foi sua amiga e conselheira. Foi sua promotora em algumas ocasiões. Em 1983 é detectado nela um cancro em estado avançado. Não é possível operá-la e a quimioterapia não faz efeito. Mesmo assim, ela tem um desejo que carregou por mais de quinze anos: realizar um filme baseado em vários poemas de Edgar Allan Poe.
Schroeter move céus e terra buscando fundos para poder concretizar o filme. Endivida-se até aos cabelos mas finalmente consegue realizar
O Rei das Rosas (
Der Rosenkönig 1984-1986). O filme é o testamento artístico de Montezuma que morre três meses depois do término da rodagem. É um filme totalmente barroco, desmesurado, desde o seu tema: uma mulher quer conseguir as rosas mais vermelhas jamais criadas, quer conseguir a perfeição das rosas, a “vermelhidão” (o conceito de vermelho) perfeita. Para isso regará seus roseirais com sangue fresco de um jovem assassinado. Trata-se de alcançar a perfeição a qualquer custo. Qualquer custo deve ser pago para alcançar a perfeição da obra de arte? Parece que Magdalena e Werner são capazes de afirmar que sim.
A fotografia de
O Rei das Rosas está pregada de detalhes, com uma iluminação saturada de cores fortes. Novamente a localização escolhida é a Itália. Lá se lerão diversos poemas de Poe e outros textos escritos pela própria Montezuma. Um revólver, uma rosa e a luz intensa de um projector de 16 mm. Um céu estrelado construído com fogos de artifícios, como se se tratasse de um teatro de ópera. Teias de aranhas nos cantos de uma velha residência. Gestos e olhares suspeitos. Tentativas de envenenamento. Sempre, em todo momento, a presença da morte morde a imagem em
O Rei das Rosas. Mas o filme, como a arte, é a negação da morte. O filme é a afirmação da vida pela graça da arte. E é também como se Schroeter mesmo quisesse se transformar em um novo senhor Valdemar para hipnotizar sua amada Magdalena e que esta permaneça em uma semivida (a do cinema) que se esquiva da morte.
Verdi, Vangelis, Mozart, Puccini, Jacques Brel, e outros anjos da música são convocados para colaborar com tal tarefa. Também a literatura vem ao resgate. Essa pulsão literária (...), reaparece aqui como artifício glamouroso do afecto. De afectos e distâncias, de espaços despejados, de uma noite eterna que povoa as tristes habitações onde se lêem poemas, tudo isso rodeia a solidão onde Montezuma se despede da arte, melhor dizendo, da vida."