
Há pouco mais de um mês (a 27 de Fevereiro, para sermos mais precisos), o suplemento Ípsilon no Público e a jornalista Inês Nadais apresentavam uma reportagem exemplar e bastante sintomática da crise vivida pelas salas de cinema no Porto. Escrevia-se aí: "o panorama actual da exibição cinematográfica no Porto é tudo menos exemplar - 14 salas em funcionamento, 12 das quais em centros comerciais". Mais: "Dos 21 cinemas activos na cidade em 1978, não há nenhum aberto".
É verdade que agora não se fala noutra coisa que não seja a criação da Cinemateca do Porto, que tudo indica poderá servir para mudar alguma coisa no panorama actual da exibição cinematográfica, mas para além da espera só servir para agudizar ainda mais a ansiedade que por ali existe (não extinguindo boa parte daquele sentimento que previne: "será-que-isto-não-é-bom-demais-para-ser-verdade?"), o projecto apenas parece vir sublinhar o estado a que tudo isto chegou. Sendo "isto" o divórcio que desde o início deste século (será que vamos dar razão a Paul Schrader que dizia que o cinema era uma arte exclusiva do séc. XX?") se acentuou entre o público e as salas de cinema.
Deixámos de ir ao cinema, é um facto. Deixámos de entrar nos vários espaços (das salas mais pequenas aos cine-teatros de província) onde este era projectado. O que não quer dizer que o cinema se tenha eclipsado (ele anda por aí: na tv por cabo, nos torrents da Internet, nos DVD's oferecidos pelos jornais de fim-de-semana ou através da pirataria, etc.), mas o facto é que deixou de ser vivido colectivamente e com um profundo espírito de comunidade. Mais importante, deixou de ser vivido com o corpo e a alma que só podem ser pressentidos através do seu formato original: o grande ecrã e a película de 35 mm.
A reportagem intitulava-se "Porto: onde é que estão os espectadores para o cinema?" e para além de querermos chamar a atenção para a reflexão que o texto nos apresenta (há várias figuras a oferecer descrições e alternativas à crise que se instalou), podemos (e devemos) dizer que a interrogação também serve para muitos outros locais no país. Em vez do Porto, e à sua dimensão, podia estar ali Leiria (onde nem há muito tempo fecharam duas salas), Alcobaça, Rio Maior, Nazaré (e sim; ao mencionar todas estas localidades estamos no fundo a puxar a brasa à nossa sardinha), entre tantas outras que existem pelo território nacional.
A crise é também, e essencialmente, uma crise de cinefilia no sentido mais nobre e ilustre do termo: há cine-clubes que simplesmente cessaram a sua actividade, outros que vivem imensas dificuldades ou se cristalizaram no tempo (alguns fechados numa visão elitista da oferta cinematográfica), além de faltarem iniciativas e esforços em muitos municípios capazes de levarem a cabo ciclos e retrospectivas que coloquem o cinema ao nível de outros eventos culturais.
Não basta dizer que não há público, porque nisto concordamos com o que o estudante David Barros diz a Inês Nadais: "Temos (...) de lidar com a situação e ultrapassar esta falácia de que não há cinema no Porto porque não há público. Também não há público se não houver cinema. É preciso começar a criar novos circuitos de cinefilia". Já Carlos Azeredo Mesquita, que pertence ao Cineclube da Faculdade de Belas-Artes, diz outra coisa que nos parece muito certeira: "A Cinemateca seria a instituição perfeita, mas não resolve os problemas todos: há coisas mais pequenas, menos institucionais, que podem criar práticas mais densas. Também achávamos que não havia público para as artes visuais, e tanto Serralves como Miguel Bombarda são o que são".
Quanto a Dario Oliveira, um dos directores do Curtas Vila do Conde, dá-nos o exemplo do que pode ser uma receita eficaz para se criar outro tipo de ligação ao cinema (e que, modéstia à parte, é um pouco aquilo que a *aurora tenta por cá igualmente fazer): "(...) havendo uma programação séria, uma ligação à universidade e ao meio artístico, há público".
E é como se todos apontassem, mais do que um caminho, à "criação" de um novo percurso dirigido ao público, seja ele qual for, seja ele quanto for: "Se não começarmos pelas 20 pessoas, nunca passaremos para as 2000", afirma o arquitecto Alexandre Alves Costa. A *aurora concorda plenamente: como é que se pode ter uma casa cheia se não nos preocuparmos com cada um dos que vier a ocupar lugar nela?
















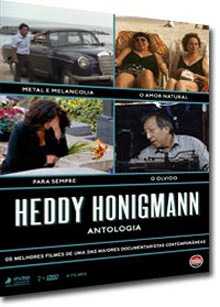

























Sem comentários:
Enviar um comentário